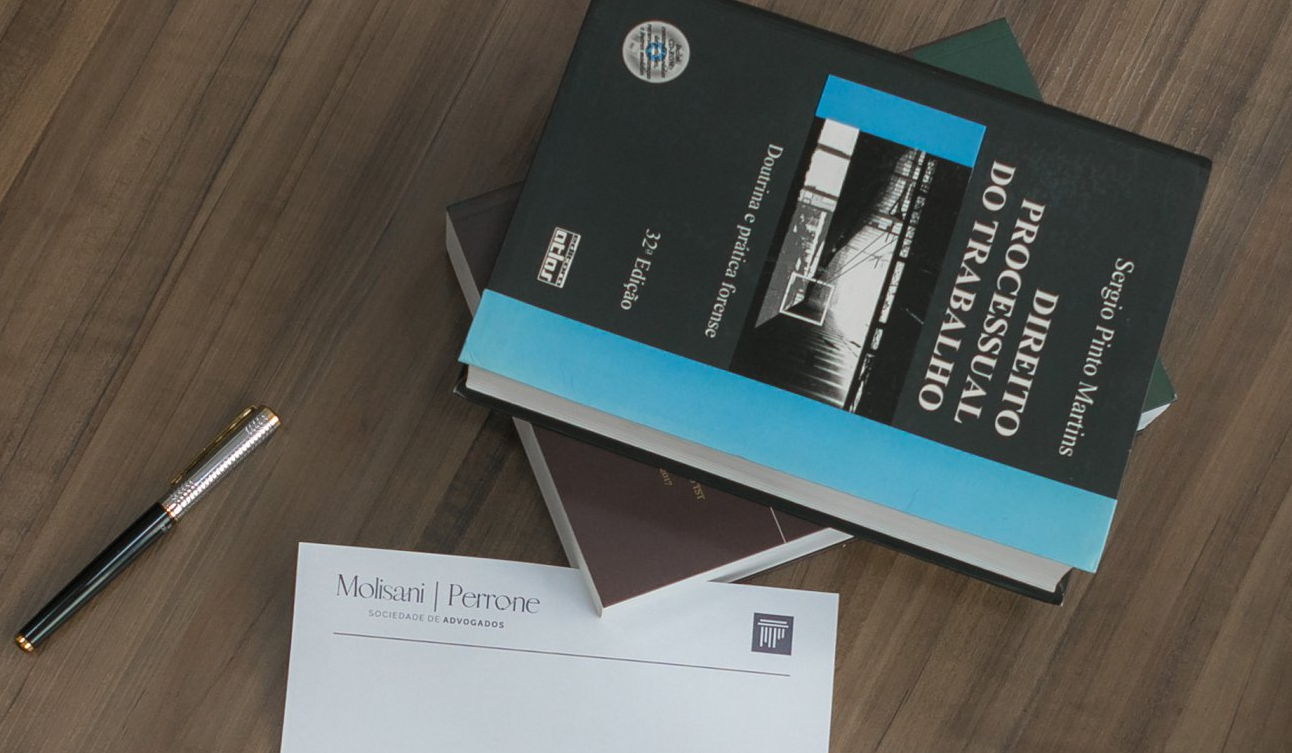A Importância dos Meios Alternativos Para Resolução de Conflitos

Um desafio intrínseco de toda sociedade é o tratamento e solução dos conflitos que nela se originam. Via de regra, compete ao Estado, por meio de seu Poder Judiciário, dar a solução sobre os litígios, estes cada vez mais frequentes e perceptíveis com o avanço da dinâmica e complexibilidade social. Esse sistema tradicional é conhecido como cultura do litigio, em que a intervenção do Estado, por intermédio da figura do juiz, dirimirá as questões em disputa pelas partes.
O tratamento tradicional dos conflitos se pauta na busca em se alcançar uma justiça racional e imparcial, de forma a expressar os regramento e costumes da sociedade, com o objetivo de pôr fim às disputas, alcançando a pacificação social. A atração desse tratamento para o Poder Judiciário parte da junção da concepção sociológica do Direito com a visão centralista de Estado e de separação de poderes.
Em que pese a ideia central da judicialização dos conflitos sociais parta do pressuposto maior de que a situação conflituosa deve ser trabalhada adequadamente – o que acreditou-se por muito tempo que a melhor maneira seria fazê-lo de forma intervencionista e impositiva pelo Estado – o que se percebeu, contudo, é que esse modelo possui falhas, operacionais e de efetividade, abrindo, assim, nas últimas décadas campo para avanços e inovações em outros meios, os chamados meios consensuais.
Neste sentido, os meios consensuais ganharam força nos debates acadêmicos e legislativos ante a crescente demanda de litígios levados ao poder judiciário, com o consequente aumento em quesitos de morosidade, onerosidade e, muitas vezes, ineficiência.
No cenário de pós-modernidade, o Brasil também se inseriu ao debate, apresentando avanços tanto em edição de leis como em aplicação dos meios alternativos, que na prática consistem em mediação, conciliação e arbitragem. Esta postura é evidenciada na Lei da Arbitragem (Lei 9.307/96); nas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, tal como a Resolução nº 125 de 2010; na Lei de Mediação (lei 13.140/2015); e no Novo Código de Processo Civil.
Importante destacar que tais métodos não são simples ferramentas a serem usadas para sanar as críticas da judicialização e desafogar o Poder Judiciário, mas sim devem ser entendidos como formas de tratamento de conflitos mais adequadas.
Especificamente quanto a estes métodos, eles podem ser subdivididos em duas categorias: autocompositivos e heterocompositivos.
Os meios autocompositivos, representados pela mediação e conciliação, são caracterizados pelo fato de que as partes conflitantes participam na formação da solução. São elas que constroem o acordo, de forma que eventual terceiro (conciliador ou mediador) se aloca no papel de auxiliar o processo, mas a decisão final é sempre das partes.
A conciliação é mais usualmente aplicada em casos em que não se evidencia histórico entre as partes, ou seja, o objetivo é pôr fim a um conflito havido por ocorrência momentânea, via de regra de cunho patrimonial, não tendo a preocupação de reestabelecer qualquer relacionamento pessoal, haja vista que este nunca existiu. Durante o processo de conciliação, há a figura do conciliador, o qual poderá propor ativamente soluções para o problema.
A mediação, por outro lado, se aplica quando o relacionamento acima inexistente passa a ser percebido, como questões de família ou de vizinhança. Nestes casos, não é apenas a discussão principal em si que deve ser trabalhada, mas também todo um conglomerado de circunstancias que gravitam a lide existente. O mediador atua como um facilitador, um promotor de diálogos, enquanto o acordo é construído pelas partes. Pontos como desgaste no relacionamento das partes, bem como instabilidade emocional devem ser considerados e trabalhados para que seja possível alcançar a pacificação almejada.
Já com relação aos métodos heterocompositivos, no caso a arbitragem, sua principal diferença para com os anteriores é o fato de que a solução final da demanda não se dá por um acordo e sim por uma decisão proferida por um terceiro imparcial, não o juiz tradicional e sim um arbitro, dada a natureza privada do procedimento.
A figura do árbitro ocupa papel de elevada importância para a arbitragem, pois é nele que as partes, de comum acordo, depositam sua confiança em conferir-lhe a função de trabalhar a lide, ante o seu reconhecido conhecimento técnico sobre a matéria conflituosa.
Destaca-se que não necessariamente é preciso que o arbitro seja um profissional do direito, sendo, de certa forma, comum a escolha de árbitros pertencentes as mais diversas áreas, no mais das vezes relacionadas a matéria em debate. Aliás, há a possibilidade da escolha de mais de um árbitro, de campos de atuação diversos, os quais proferiram uma decisão de forma colegiada.
O poder decisório do árbitro há de ser ressaltado, uma vez que sua decisão terá natureza impositiva e formará um título executivo judicial irrecorrível.
Tendo em vista todas essas questões, é de extrema importância a sábia escolha do árbitro, que em regra acaba por se dar pela opção da Câmara Arbitral, que já possuiu em seu quadro vários árbitros e as previsões dos procedimentos.
Para finalizar, passaremos a expor alguns apontamentos específicos sobre a arbitragem, a qual consiste no procedimento mais robusto dos meios alternativos elencados.
O início da arbitragem se identifica antes mesmo de se instaurar o procedimento, é o momento de manifestação de vontade das partes e permitir que o conflito seja posto em análise arbitral. Isso se dá por meio de uma cláusula compromissória, também denominada de cláusula arbitral, ou por um compromisso arbitral.
A diferença entre ambos é a questão de preventividade. A cláusula arbitral encontra-se prevista no contrato, portanto é anterior ao conflito. Já o compromisso arbitral é firmado posteriormente, quando o conflito já se instaurou.
Com relação a cláusula arbitral, esta pode estar prevista sob duas faces, cheia ou vazia. A cheia é dotada de conteúdo amplo sobre o procedimento de poderá ser instaurado caso venha a sobrevir eventual conflito. A vazia, por outro lado não prevê a forma do procedimento, tão somente que as partes aceitam que seja instaurada a arbitragem, deixando as demais definições para o momento em que se ocorrerá o conflito futuro.
O fim do procedimento ocorre com a sentença arbitral, que é a decisão final do árbitro, a qual tem caratê irrecorrível e força de título executivo judicial, cabendo, portanto, a propositura de cumprimento de sentença caso necessário, o qual vira a ser feito em vias judiciais. A sentença arbitral tem como característica a estrutura e conteúdo técnicos em decorrência da expertise do arbitro, bem como de um maior grau de efetividade ante a anuência pretérita das partes na adesão ao procedimento, criando um efeito psicológico de melhor reconhecimento da decisão.
É importante frisar que a arbitragem não é o meio cabível para buscar o cumprimento desse título, ele se finda com a solução da controvérsia. O cumprimento forçado demanda os poderes jurisdicionais coercitivos do Estado-Juiz.
Compartilhar